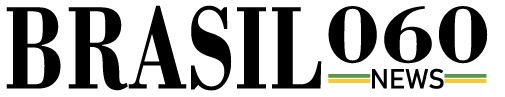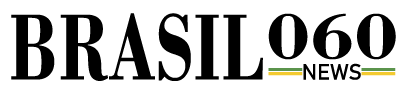O presidente eleito surfou a onda de revolta contra a política, e chegou ao topo prometendo fazer tudo diferente. Agora, a política se impôs. Que bom

A eleição de Bolsonaro se deveu a diversos fatores, mas um deles, sem dúvida, foi o sentimento de revolta profunda com a política partilhado por grande parte da população. Esse sentimento se fez sentir da primeira vez, de forma viva, nos protestos de junho 2013.
Em 2013, não havia ainda crise econômica. Crescíamos e o desemprego era baixo. Mesmo assim, algo estava cozinhando por baixo da superfície. O que começou como um protesto específico contra a tarifa do transporte público, previsivelmente nas mãos de alguns poucos partidos, se transformou em uma série de manifestações apartidárias (e, na verdade, anti-partidárias: eu cheguei a ver pessoas de verde e amarelo querendo bater em qualquer um que tivesse bandeira ou símbolo de partido) e com uma pauta muito ampla. No fundo, gritava-se ali a revolta contra o Estado e a classe política brasileira.
A revolta era justificada: nosso Estado custa muito e não retorna os serviços esperados, preferindo gastar com estádios de futebol. Ao mesmo tempo, a classe política vive em um mundo de privilégios e de corrupção, completamente alienado dos sentimentos da população. Essa revolta se cristalizou na rejeição da própria natureza da política: a negociação que relativiza os valores em jogo para melhor atender aos diversos interesses.
Bolsonaro surfou a onda de revolta contra a política, e chegou ao topo prometendo fazer tudo diferente. Uma nova era começou. A partir de agora, não mais se praticaria o “toma lá dá cá” tradicional. E, de fato, na composição original dos ministérios, Bolsonaro entregou muita coisa a diversos grupos (ruralistas, militares, etc.) mas de fato não parece ter cobrado nada em troca. Os ruralistas, por exemplo, receberam dois ministérios (agricultura e meio-ambiente) sem se comprometer a dar nada em troca, e estão cumprindo com o prometido. Desde proteger os produtores de alho da concorrência chinesa a exigir a manutenção de casos especiais previdenciários (como o abate da contribuição à previdência para exportação agrícola), a bancada segue ferrenha na defesa de seus interesses, pouco se importando com outras possíveis prioridades do governo.
O problema é que a completa ausência de negociação política deixa o presidente isolado. O primeiro choque do Congresso já veio: com farta maioria, os parlamentares derrubaram o decreto do governo que facilitava o dar sigilo a documentos. Agora a votação do projeto mais importante no horizonte da presidência, a reforma da previdência, se aproxima, e o governo não tem nem a ideia de com quantos votos ele poderá contar. Por isso mesmo, ao mesmo tempo em que Rodrigo Maia (que foi apoiado pelo governo, mas não é dele e segue uma agenda própria) conquista mais e mais poder para articular a Câmara, o governo admite fazer aquilo que antes renegara: negociar com base em verbas e cargos.
A política não é palco de discussão abstrata de ideias. É onde a população, via seus representantes, negocia os interesses múltiplos que formam a sociedade. Cada deputado tem um estado e um eleitorado, que esperam que ele ajude a melhorar de vida. E cada deputado tem um partido, um grupo de pessoas que cooperam para se auxiliarem a chegar ao poder e implementar um plano com o qual concordam. Cargos e verbas entram aí.
Sem isso, tem-se ou uma utópica “discussão de propostas” ou a intimidação com a qual Bolsonaro parecia contar: a sociedade civil indignada que exige dos parlamentares uma certa conduta. Mas a atenção do público é seletiva e dura pouco, não é uma força confiável para o dia-a-dia da política. O evidente déficit de articulação política parece ter convencido Bolsonaro a sentar na mesa de negociação. A “nova era” acabou. Voltamos à política, única ferramenta disponível para um mundo de interesses conflitantes que não queira descambar para a guerra.

Fonte Exame