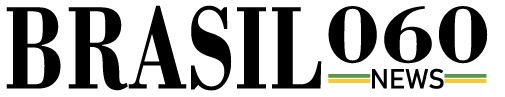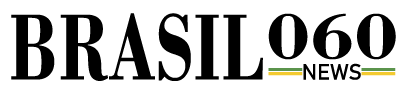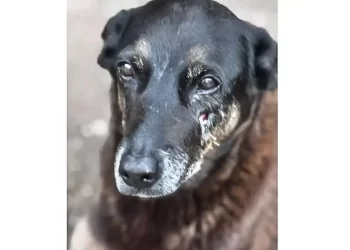Varíola dos macacos representa ao menos três riscos de promover estigmas e ameaças, apontam pesquisadores
A doença, antes restrita a algumas regiões da África, está se espalhando de forma inesperada por Europa, Américas, Oriente Médio e Oceania, de acordo com as últimas informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O surto, que ainda está em investigação pelas autoridades, chama a atenção por reunir três atributos que representam um risco de aprofundar estigmas e preconceitos — ou, vendo por outra ótica, uma “oportunidade” para corrigir e evitar erros que foram cometidos em outras crises sanitárias.
Além dos óbvios efeitos no sistema de saúde, epidemias e pandemias também causam transformações sociais — e a comunicação sobre elas pode levar a noções distorcidas que duram décadas. Isso prejudica até o controle de casos, hospitalizações e mortes relacionadas àquela condição.
O HIV e o coronavírus são exemplos desse fenômeno: a definição genérica de “grupos de risco” fez com que muita gente relaxasse e não acreditasse na possibilidade de uma infecção. Isso, por sua vez, criou novas cadeias de transmissão na comunidade e permitiu que os patógenos se espalhassem de forma silenciosa, sem chamar atenção.
A seguir, especialistas ouvidos pela BBC News Brasil listam três erros cometidos em epidemias passadas que podem ser evitados agora, no surto de varíola dos macacos, e em outras crises futuras.
Xenofobia
Durante décadas, o sistema de classificação de novos vírus, variantes ou até mesmo de doenças levava em conta a localização em que eles eram detectados ou noticiados pela primeira vez.
Zika, por exemplo, é uma floresta tropical de Uganda, onde o patógeno de mesmo nome foi encontrado pela primeira vez em 1947.
Em 1918, a doença causadora de uma das pandemias mais mortais da história ficou conhecida como “gripe espanhola” — apesar de muito provavelmente o vírus ter surgido em campos militares dos Estados Unidos (ela só foi noticiada antes por jornais na Espanha).
“E até hoje nós nomeamos as novas cepas do vírus influenza, o causador da gripe, de acordo com a cidade em que elas foram detectadas”, acrescenta a infectologista Raquel Stucchi, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Vamos a um exemplo prático disso: as versões do patógeno que mais circularam no Brasil nos últimos meses foram o H1N1 Victoria e o H3N2 Darwin.
Victoria e Darwin são cidades do sul e do norte da Austrália, respectivamente.
Um sistema desses traz muitos problemas. O primeiro deles é que nem sempre o lugar onde um vírus, uma variante ou uma doença foram descritos em primeira mão são realmente o nascedouro daquele patógeno ou daquela condição.
A descoberta pode significar apenas que aquela cidade (ou aquele país) possuem um excelente sistema de vigilância, que detectou casos importados de outra região do planeta.
E, mesmo se o local tenha sido o “berço” do agente infeccioso ou da enfermidade, parece não fazer muito sentido usar o nome de um bairro, uma floresta, uma cidade ou um país para descrever aquele novo quadro.
Esse costume só cria um incentivo desnecessário à xenofobia — o nome adotado pode levar a interpretações errôneas, como se a culpa pelo problema fosse das pessoas que vivem no epicentro original do surto, da epidemia ou da pandemia.
A OMS percebeu esse risco e já mudou as coisas desde que a covid-19 apareceu.
O último coronavírus a chamar a atenção antes da pandemia atual foi o Mers-CoV em 2012, detectado pela primeira vez na Arábia Saudita. O nome Mers é uma sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio.
Na crise sanitária atual, essa tendência foi corrigida. O nome do vírus causador é Sars-CoV-2 (Sars é sigla para Síndrome Respiratória Aguda Severa) e a doença ficou conhecida como covid-19 (algo como “coronavírus doença 2019” na tradução literal da sigla em inglês).

CRÉDITO,GETTY IMAGES
Termos mais neutros também foram adotados com as variantes do coronavírus. Quando surgiram, elas eram chamadas de linhagens “do Reino Unido”, “da África do Sul” ou “de Manaus”.
Mas isso foi rapidamente corrigido e as variantes de preocupação foram atreladas às letras gregas — como alfa, beta, gama, delta e ômicron.
E a OMS parece mostrar a mesma preocupação agora com a varíola dos macacos. A entidade se posicionou depois que mais de 30 cientistas assinaram uma carta em que destacavam “a necessidade urgente de buscar nomes que não sejam discriminatórios ou estigmatizantes”.
Stucchi, que também integra a Sociedade Brasileira de Infectologia, considera essa discussão “prudente”.
“Isso é algo que deve ser muito bem pensado para a gente não incentivar constrangimentos ou preconceitos”, avalia.
“Mas é curioso que essa preocupação mundial com o nome só apareça agora que a doença saiu da África e começou a atingir as Américas e a Europa”, observa.
Estigmatização de grupos sociais
O surgimento de uma nova doença infecciosa sempre instiga a mesma pergunta: quem tem mais probabilidade de ser acometido?
Por um lado, definir os chamados “grupos de risco” é algo importante do ponto de vista da saúde pública.
“Em nenhuma doença o risco de adoecer ou morrer é homogêneo na população”, explica o epidemiologista Alexandre Grangeiro, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
“Portanto, ao determinar quem tem mais probabilidade de ser afetado, você direciona as políticas públicas de forma adequada e não aumenta as desigualdades.”
“Isso não apenas garante o cuidado aos pacientes no momento adequado, como ajuda a interromper a cadeia de transmissão do vírus”, completa.
O problema é quando essa definição dos grupos de risco acontece de forma precipitada, atabalhoada ou leva em conta apenas os primeiros casos.
E foi exatamente isso o que ocorreu (e ainda ocorre) em algumas das epidemias das últimas décadas.
Nos anos 1980, quando a aids virou um problema global, as primeiras informações divulgadas davam conta de que só homens que faziam sexo com outros homens estavam sob risco — à época, o termo “peste gay” era usado pejorativamente para falar da infecção pelo HIV.
Mais recentemente, na atual pandemia de covid-19, alguns conteúdos divulgados pela imprensa e nas redes sociais diziam que apenas idosos e indivíduos com sistema imunológico comprometido desenvolviam as complicações.

CRÉDITO,GETTY IMAGES
Nos dois casos, essas mensagens iniciais confirmaram a noção de que outras pessoas que não se encaixavam nos tais “grupos de risco” estavam livres de qualquer ameaça.
E o resultado disso a gente viu na prática: os vírus se espalharam e afetaram gravemente pessoas que, supostamente, segundo essas informações erradas, não precisariam se preocupar com aids ou covid, como mulheres heterossexuais e adultos jovens, por exemplo.
Grangeiro avalia que o problema começa quando as definições de risco são muito genéricas e baseadas apenas nos primeiros casos detectados, que costumam ser mais graves e acabam encaminhados para serviços especializados.
“A princípio, algumas informações sobre os grupos de risco não estão erradas, mas elas podem levar a estratégias de saúde pública que, na prática, têm até impacto negativo”, aponta o especialista.
“No caso da aids, por exemplo, se definiu que o risco era maior entre homens que fazem sexo com homens. Isso está errado? Não, o risco de fato era de 10 a 11 vezes maior nesse público”, calcula.
“O erro está em levar em conta somente essa única observação nas políticas de saúde. Porque quem tinha maior risco eram os indivíduos com redes sexuais amplas e desprotegidas, inclusive heterossexuais”, diz.
Agora com a varíola dos macacos, existe uma probabilidade desse mesmo padrão se repetir. De acordo com um relatório publicado pela Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido, a vasta maioria de casos foi identificada em indivíduos que se consideram gays, bissexuais ou homens que fazem sexo com homens.
O estudo acompanhou 152 pacientes com a infecção confirmada. Desses, 151 diziam fazer parte de uma das três características listadas acima.
Mas, como as experiências passadas nos revelam, é um perigo fechar tão cedo assim grupos de risco tão genéricos e dizer que o restante da população pode relaxar.
“Toda doença nova traz ansiedade, insegurança e medo. E esses conceitos iniciais acabam sendo muito fortes e ficam marcados”, aponta Grangeiro.
“No próprio HIV, mesmo com décadas de trabalho, ainda vemos muito preconceito com a população homossexual e trans.”
“Não podemos repetir esse erro mais uma vez”, conclui o epidemiologista.
Ameaças à natureza
Para fechar a lista, não dá pra ignorar o fato de que a escolha do nome e as informações divulgadas sobre a doença trazem perigo a alguns animais.
O Brasil teve um exemplo clássico disso entre 2016 e 2017, quando alguns Estados registraram um surto de febre amarela.
Nesse contexto, o grande problema era que o vírus, transmitido por alguns mosquitos silvestres, afeta seres humanos e macacos, como os bugios.
“E nós tivemos registros lamentáveis de episódios de agressão e mortes violentas de alguns primatas nesse período”, lembra a médica veterinária Paula Rodrigues de Almeida, professora da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul.

CRÉDITO,GETTY IMAGES
Isso aconteceu porque algumas pessoas interpretaram que os macacos eram os culpados ou até transmitiam o vírus — quando na verdade eles eram vítimas como os seres humanos.
“Eles são até mais suscetíveis que a gente”, corrige Almeida.
“E como esses bugios morrem mais rapidamente, eles servem como sentinela e nos alertam sobre o possível aumento de casos em determinada região”, complementa.
No caso da varíola dos macacos — como o próprio nome adianta, aliás — se repete esse risco aos animais por causa de uma interpretação equivocada dos fatos.
“E, mais uma vez, os macacos são vítimas dessa história. Eles são infectados, mas os reservatórios desses vírus na natureza são alguns roedores”, esclarece Almeida.
Isso dá ainda mais força para uma eventual mudança de nome do vírus ou da doença.
“Não podemos reforçar ou estimular estigmas, seja contra seres humanos ou contra os animais”, conclui a especialista.

– Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61930716
BBC News Brasil em Londres