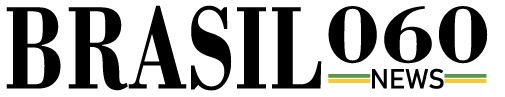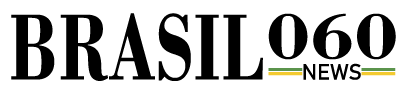Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi publicado, há 30 anos, Wendell Perinotto tinha 7 anos e vivia em Itobi, no interior de São Paulo. Quando não estava na escola, ele acompanhava o pai no trabalho em uma terra arrendada pela família para subsistência. “Minha parte era a mais leve”, recorda ele: arrancar ervas daninhas, fazer a colheita menos pesada e capinar.
“Era uma coisa cultural”, lembra o professor universitário, que não culpa os pais. Embora de gerações distintas, a infância de pai e filho foi parecida, e a da maioria das crianças da região à época era semelhante.
Diferentemente de alguns de seus amigos, porém, Wendell teve incentivo da família para não interromper os estudos e, a partir de um curso pré-vestibular comunitário, conseguiu se preparar e passou para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), onde se formou em veterinária. A universidade pública foi o caminho que permitiu que alcançasse a pós-graduação e a carreira de professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), onde dá aulas hoje, aos 37 anos.
“Hoje, vendo a nossa situação, não vejo meu filho fazendo o que eu fiz. Hoje, eu penso em dar [a ele] uma coisa diferente”, compara Perinotto, que aguarda a chegada do primeiro filho. “Vejo meus amigos de infância que não tiveram essa oportunidade e continuam no interior trabalhando na agricultura sem uma perspectiva melhor. Eles permanecem lá, e os filhos continuam”.
Abordagem do Estado
A abordagem do Estado contra o trabalho infantil foi uma das transformações que o ECA produziu, conta a coordenadora nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ana Maria Real, que destaca uma inversão de valores que era e ainda se faz presente na forma de muitas pessoas verem essa questão.
“É a criança que tem que trabalhar ou é o Estado que tem que suprir as necessidades daquela família vulnerável? A criança é colocada naquela situação porque há uma necessidade econômica”, questiona ela, que vê relação entre a forma que se deu o fim da escravidão e a naturalização do trabalho de crianças pobres: “Não houve nenhuma política pública e ficou uma massa de crianças negras nas ruas, oferecendo sua força de trabalho e como pedintes, para tentar sobreviver.”
Ana Maria Real avalia que, antes do ECA e da Constituição de 1988, a visão da sociedade e a resposta do Estado ao trabalho infantil eram permeadas por preconceitos: “A criança em situação de trabalho infantil era vista como um menor abandonado e um potencial delinquente e rompedor da ordem social. Havia uma criminalização”, conta ela. “O ECA trouxe uma mudança paradigmática da criança como sujeito com direito ao lazer, à escola, à família.”
O combate ao trabalho infantil que se deu, desde então, reduziu o número de crianças e adolescentes nessa situação em 68% entre os anos de 1992 e 2015. Foram 5,7 milhões de crianças e adolescentes que deixaram de trabalhar no período. No entanto, 2,4 milhões continuam nesta situação, sendo 80% adolescentes, segundo a procuradora.
Legislação
A mudança de perspectiva sobre o trabalho dos adolescentes, acrescenta ela, também contribuiu para que leis criassem formas menos precárias de trabalho para essa população, como a Lei de Aprendizagem, de 2000. A lei elevou a idade mínima para aprendizagem de 12 para 14 anos e determinou que os adolescentes recebam “formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico”.
“A aprendizagem veio como fruto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela deixou de ser preparo para um ofício específico e passou a ser preparação do adolescente para o mundo do trabalho, aliando educação e emprego”conta Ana Maria.
Apesar dos avanços, ela pondera que é comum ouvir chavões que indicam que o pensamento sobre o trabalho infantil não foi completamente modificado na sociedade brasileira. “‘É melhor trabalhar do que roubar’. ‘Trabalhar não mata ninguém’. ‘Trabalhar dignifica’. Esses chavões estão muito arraigados e refletem o pensamento da sociedade, que não dá o valor devido à criança e ao adolescente”, diz a procuradora. “A criança e o adolescente ainda são vistos de alguma forma como objetos.”